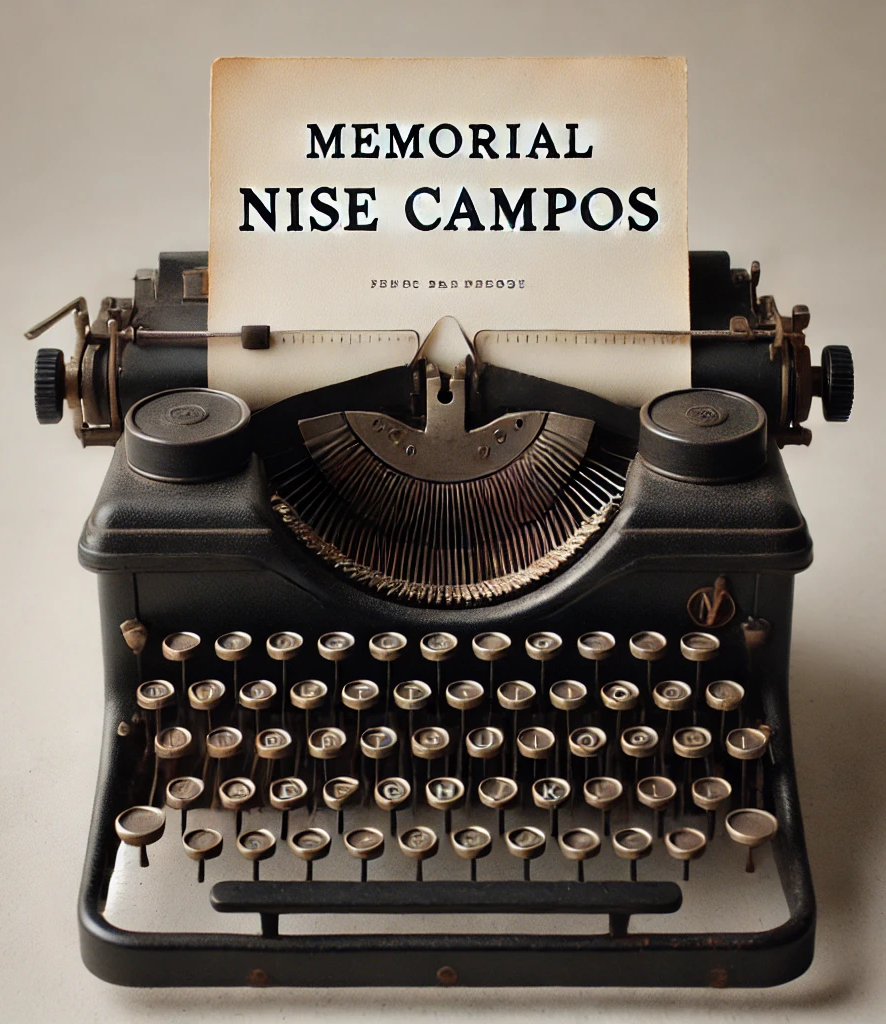Em sua juventude, iniciou os estudos primários em sua terra natal, prosseguindo depois com o curso secundário em Ouro Preto. Mais tarde, frequentou o renomado Colégio do Caraça, considerado um dos centros de ensino mais prestigiados do Império.
Seguindo sua vocação, ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, onde
concluiu o curso de “Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais” em 1886. Essa
formação daria a ele as ferramentas para uma vida pública que uniria direito,
política, economia e educação.
Casou-se com
Cecília Bahia Gonçalves, filha do Major Francisco Bahia Rocha, tradicional
família mineira. O casal teve oito filhos: três mulheres e cinco homens,
consolidando laços familiares que se estendiam entre Itaúna, Pitangui e Belo
Horizonte. Sua ligação com a cidade foi não apenas institucional, mas também
afetiva, registrada em discurso no qual afirmou: “Como é que não hei de
gostar da terra de minha mulher e berço de meus filhos?”
Fixou-se em Pitangui como Juiz de Direito, cidade onde construiu sólida reputação de advogado e liderança política. Tornou-se figura respeitada pela seriedade no exercício da magistratura e pela defesa das liberdades civis, destacando-se ainda como chefe do movimento conhecido como gonçalvismo, que marcou profundamente a história local em oposição ao vasquismo de Vasco Azevedo.
Essa rivalidade encontrou um de seus momentos mais emblemáticos na
Sedição de 1896, quando José Gonçalves defendeu juridicamente os líderes
populares acusados de sublevação, garantindo sua absolvição em júri realizado
em Pará de Minas. O episódio reforçou sua imagem de advogado comprometido com a
justiça e, ao mesmo tempo, consolidou sua posição como chefe político de uma
corrente que dominaria a vida pública pitanguiense por décadas.
A sua trajetória
política percorreu diferentes instâncias como Deputado, Senador Estadual e
Deputado Federal. No Governo de Júlio Brandão (1910–1914), ocupou a pasta de
Secretário da Agricultura, Indústria, Terras, Viação e Obras Públicas, cargo
estratégico em um momento de expansão e modernização de Minas Gerais. Nesse
período, reforçou políticas de apoio à agricultura, industrialização e educação
técnica.
Dr. José Gonçalves também atuou no setor privado, presidindo a Companhia de Tecidos Industrial Pitanguiense e a Companhia de Tecidos Santanense de Itaúna, além de fundar a União dos Manufatores Têxteis (1902), consolidando-se como elo entre política e economia.
Sua liderança ajudou a consolidar Minas Gerais como polo emergente da
indústria têxtil. Essa dupla liderança, política e empresarial, exemplifica
como sua trajetória ultrapassou fronteiras municipais, projetando-o como figura
central da Primeira República mineira.
Um marco de sua
forte ligação com Itaúna foi a fundação da Cooperativa de Laticínios Itaunense
(1911). Em 19 de março de 1913, participou da inauguração da sede e da fábrica,
sendo homenageado como símbolo da modernização agroindustrial. Sua presença legitimou
a iniciativa, projetando Itaúna no cenário estadual como polo de inovação no
setor lácteo.
Entre suas muitas realizações, destacou-se a fundação da Escola Livre de Engenharia de Belo Horizonte, em 1911 — um marco para a educação mineira e um passo decisivo para preparar gerações de engenheiros que ajudariam a transformar o país.
Como
Secretário de Agricultura, presidiu a reunião de fundação e assumiu o cargo de
primeiro diretor. Essa iniciativa não apenas atendeu às demandas técnicas de um
estado em industrialização, mas também representou sua visão estratégica de
formar quadros para o futuro.
Segundo o
Monsenhor Vicente Soares, em A História de Pitangui, o Dr. José
Gonçalves contribuiu para a construção da nova Matriz de Nossa Senhora do
Pilar, após o incêndio do templo em 1914. Colocou à disposição da comissão
construtora o engenheiro Dr. Benedito José dos Santos, responsável pela planta
da nova igreja, o que demonstra seu compromisso com a religiosidade e o
patrimônio cultural da cidade.
Sua memória permanece viva não apenas em Itaúna, sua terra natal, mas também em Pitangui. Até poucos anos, segundo o blog Daqui de Pitanguy, existia na Praça Brito Conde, no coração da cidade, um busto em sua homenagem. A presença desse monumento revelava o reconhecimento público e a tentativa de eternizar sua importância na paisagem urbana.
Ainda que o busto já não esteja lá, o
registro da homenagem ajuda a compreender como a cidade guardava e projetava
sua memória. Além disso, uma rua próxima à Igreja Matriz continua a lembrar seu
nome: Rua José Gonçalves.
Outro
testemunho da preservação de sua memória está na área da educação no município
de Itaúna. Em 23 de março de 1955, por meio do Decreto nº 4.497, assinado pelo
então governador Juscelino Kubitschek, as Escolas Reunidas “Dr. José Gonçalves”
foram transformadas em Grupo Escolar, com a mesma denominação. Com o passar dos
anos, a instituição passou a ser denominada Escola Estadual José Gonçalves,
mantendo viva a homenagem ao ilustre itaunense.
Homem
íntegro, de espírito republicano e progressista, José Gonçalves foi reconhecido
como orador brilhante, advogado respeitado, político atuante, empresário
visionário e educador transformador. Sua vida cruzou os mundos da política, da
economia e da cultura, sempre com compromisso com o desenvolvimento regional.
Faleceu em 6 de junho de 1937, sendo sepultado em Belo Horizonte, no Cemitério
do Bonfim, onde repousa como um dos grandes nomes da história de Minas Gerais.
Assim,
a trajetória do Dr. José Gonçalves de Souza não pode ser compreendida sem
considerar suas raízes profundas em Itaúna, sua cidade natal, onde recebeu o
berço e os primeiros valores familiares, e em Pitangui, cidade onde casou, teve
seus filhos e consolidou sua carreira pública e política. Esses dois municípios
foram os pilares de sua vida pessoal e profissional, espaços onde deixou marcas
de progresso, cultura e memória.
Itaúna
lhe deu o berço; Pitangui lhe deu os frutos. Entre ambas, construiu-se o legado
de um homem que soube unir tradição e modernidade, tornando-se símbolo de
liderança, empreendedorismo e desenvolvimento para toda a região.
NOTA
MARCO
INICIAL DA ESCOLA ESTADUAL DR. JOSÉ GONÇALVES
Um marco decisivo na história da Escola Estadual
Dr. José Gonçalves foi a assinatura do Decreto nº 4.497, em 23 de março de 1955,
pelo então governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Esse
documento transformou as antigas Escolas Reunidas “Dr. José Gonçalves”, que já
funcionavam em Itaúna, em Grupo Escolar, consolidando sua estrutura pedagógica
e administrativa.
Naquele período, as Escolas Reunidas reuniam
diversas turmas do ensino primário em um mesmo espaço. Já os Grupos Escolares
representavam um avanço significativo: contavam com direção própria,
professores especializados e organização por séries. A mudança significava,
portanto, um salto de qualidade na educação local, em sintonia com as
transformações vividas em Minas Gerais e no Brasil.
O decreto fundamentava-se na alínea “g”, do artigo
4º da Lei nº 408, de 14 de setembro de 1949, que concedia ao governador a
atribuição de transformar Escolas Reunidas em Grupos Escolares sempre que
necessário. Assim, ao assinar o decreto em 1955, Juscelino apenas colocava em
prática uma prerrogativa já prevista em lei.
Esse ato marcou o início de uma nova fase para a
educação em Itaúna, com maior reconhecimento oficial, melhores condições de
ensino e a consolidação do nome Dr. José Gonçalves como patrono da instituição.
Portanto, o marco inicial do nome “Escola Estadual Dr. José
Gonçalves” foi oficialmente estabelecido em 23 de março de 1955.
Referências:
Pesquisa, elaboração e arte: Charles Aquino – Historiador
Registro nº 343/MG
Imagem restaurada com IA.
Acervo:
IHP - Instituto Histórico de Pitangui
Acervo
Faculdade Engenharia: UFMG, Marco
Elísio.
"Brasil, Minas Gerais,
Registros da Igreja Católica, 1706-2018," database with images, FamilySearch
(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D1X7-HPD?cc=2177275&wc=M5N9-L29%3A370027101%2C369941902%2C370648401 : 22 May
2014), Divinópolis > Santana > Batismos 1858, Dez-1874, Fev > image 62
of 274; Paróquias Católicas (Catholic Church parishes), Minas Gerais.
AQUINO,
Charles. Cooperativa Laticínios Itaunense. Itaúna em Décadas, 20
dez. 2018. Disponível em: https://itaunaemdecadas.blogspot.com/2018/12/cooperativa-lacticinios-itaunense.html
AQUINO,
Charles. Gonçalvismo em Itaúna. Itaúna em Décadas, jun. 2024.
Disponível em: https://itaunaemdecadas.blogspot.com/2024/06/goncalvismo-em-itauna.html
BRASIL.
Estado de Minas Gerais. Decreto nº 4.497, de 23 de março de 1955. Transforma as
Escolas Reunidas “Dr. José Gonçalves”, de Itaúna, em Grupo Escolar, com a mesma
denominação. Disponível em: ALMG – Assembleia Legislativa de Minas Gerais. https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/4497/1955/
Blog Daqui de Pitanguy. Disponível: https://daquidepitangui.blogspot.com/
DINIZ,
Sílvio Gabriel. O Gonçalvismo em Pitangui: História de trinta anos de
domínio político. Revista Brasileira de Estudos Políticos, nº 28, p.
9-11, 20-33, 44, 51-52, 81-82, 1969.
Jornal
A UNIÃO (Ouro Preto). Ano 1886, n. 33, p. 2, 22 dez. 1886. Hemeroteca
Digital Brasileira. Disponível em: https://memoria.bn.gov.br/docreader/DocReader.aspx?bib=714640x&pagfis=111
SOARES.
Monsenhor Vicente. A história de Pitangui. BH, 1972, p.252–254.
SOUZA,
Miguel Augusto Gonçalves de. História de Itaúna, BH, Ed. Littera
Maciel Ltda, 1986, p. 229-232.
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG). Escola de Engenharia comemora centenário de sua
primeira turma de graduados. UFMG 90 anos, 29 mar. 2017. Disponível em: https://www.ufmg.br/90anos/escola-de-engenharia-comemora-centenario-de-sua-primeira-turma-de-graduados/
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG). Escola de Engenharia comemora centenário de sua
primeira turma de graduados. UFMG 90 anos, 29 mar. 2017. Disponível em: https://www.eng.ufmg.br/portal/aescola/historico/
 https://orcid.org/0009-0002-8056-8407
https://orcid.org/0009-0002-8056-8407
.jpg)





.jpg)